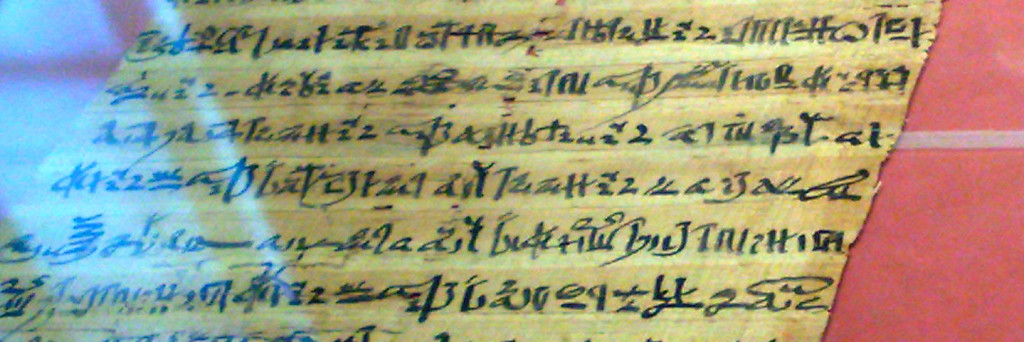Caso solicitasse uma análise, Félix seria um desafio ao analista
O personagem Félix Khoury, interpretado por Matheus Solano, na novela Amor à vida, de Walcyr Carrasco, está dando o que falar. Seu bordão entrou no cotidiano. Agora, ninguém se intimida ao dizer, por exemplo, que roubou os presentes dos Reis Magos ou que cobrou ingresso na Via Sacra!
Por que tamanho sucesso? Pelas contas do rosário: o que tem de especial no modo como esse personagem usa a linguagem? Félix cria novas expressões para queixar-se, em geral, a partir do contexto religioso, ao invés de papagaiar expressões já cristalizadas. Eu salguei a Santa Ceia, só pode! – disse Félix, reclamando da viagem com a família para Machu Pichu. Esse é apenas um exemplo de como o personagem extravasa suas frustrações, provocando riso nos telespectadores.
Filho de um rico médico, Félix foi preterido na sucessão familiar e expulso da direção do Hospital por roubo. Solano foi brilhante na composição do personagem. Não montou uma caricatura de “bicha” para incorporar o pretenso injustiçado. Ele se destaca pelo modo como dá vida ao texto de Carrasco. A cada capítulo, os telespectadores esperam para saber de que modo destilará seu veneno.
Isso gerou tamanha comoção que, nas redes sociais, tem circulado a série Félix bicha má com a coletânea dos melhores momentos. Olhando mais de perto o discurso de Félix, podemos ver que ele se monta por meio das seguintes referências:
a) Religiosas:
1.Devo ter sambado no Santo Sepulcro!
2.Será que piquei salsinha na tábua dos Dez Mandamentos?
3.Eu não coloque defeito em ninguém, foi Deus quem colocou. Eu só comento.
4.Onde foi que ganhei essa fama de coração de ouro? Ou será que estou em Israel e fui confundido com o Muro das Lamentações?
b) Corporais:
1.Pelas rugas de Matusalém!
2.Pelos cachos de Sansão!
3.Genética não tem nada a ver com cabelo tingido!
c) Financeiras:
1.Nasci para o luxo!
2.Eu não tenho vocação para a pobreza.
3.Tenho motivos suficientes pra acreditar que eu lavei cueca na manjedoura
d) À feiura feminina:
1.Pior é a mulher quando é pobre, gorda e feia. Aí é uma lastima!
2.A lei da gravidade é um crime contra a mulher!
3.De bolsa Louis Vuitton no ponto de ônibus? Você quer enganar quem criatura?
e) Autodepreciativas:
1.Tem dias que eu acordo e pareço um chiclete mascado!
2.Dormir pouco me deixa com a cara do travesseiro.
3.Minha pele borbulha com comida gordurosa.
f) Autoelogiosas:
1.Já me conformei, nem todo mundo nasce genial como eu.
2.Não tenho inimigos, só fãs revoltados.
3.Vou trocar minha aura por um esplendor de purpurina.
g) Sexuais:
1.O desejo é como uma onda: vem e vai.
2.Eu abri uma frestinha na porta do armário, dei uma escapadinha para fora, mas eu volto. Entro dentro do armário, tranco a porta com cadeado. Eu juro.
3.Qualquer mulher ficaria molhadinha só de olhar para o abdômen dele.
h) Aos jargões dos homossexuais:
1.Bofe bom é bofe burro!
2.Homem pra mim tem que ser igual a café: forte, quente e gostoso.
3.Mamãe não tem um coração, tem um mousse de morango no lugar, de tão doce que é!
Há um elemento em comum entre todas essas expressões idiomáticas: elas dizem respeito a algo que a pessoa fez, involuntariamente, e se esqueceu. Só se dá conta do que está havendo quando sofre um revide pelo qual não se vê minimamente responsável. Essa posição inconsequente é sintetizada, ainda por cima, em seu nome de felicidade: Félix. No personagem, isso é motivo da graça que seduz.
Apesar de engraçado, o humor de Félix tem consequências. Ao se mostrar íntimo de suas criações verbais, que não deixam de exigir erudição, Félix se desresponsabiliza dos acontecimentos criados por ele. Ele nunca foi responsável por nada. Se algo de mal lhe aconteceu, só pode ter sido culpa do Papi Soberano, por exemplo.
Acreditamos que ele tenta, habilmente, seduzir aquele que o ouve. Caso solicitasse uma análise, Félix seria um desafio ao analista. Ele correria o risco de se imobilizar pelo canto da sereia. Não é o caso. Seu analista teria de confrontá-lo com a consequência de seus atos, talvez, encarnando uma versão do ditado Se ele vem com o milho, a gente volta com a pipoca. E, quer saber? Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa!
Se ele fizesse uma análise, seguramente sua vida não seria mais uma piada, mas não estaria proibida a outro tipo de felicidade.
Publicado originalmente em 01 de novembro de 2013.