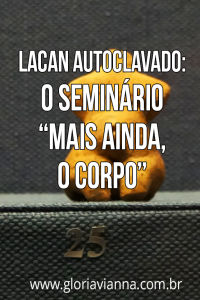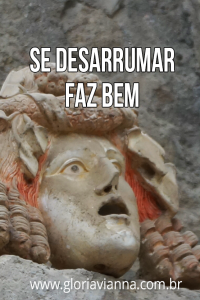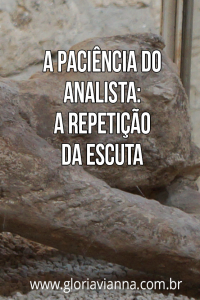Já imaginou fazer sua refeição em um deserto cercado de beduínos ou, quem sabe, até de camelos? Foi este cenário que um presente ofertado por uma pessoa versada em culinária acionou: um pequeno ramo das folhas do pé da combava (Kaffir lime). Sua folha é dupla, com uma forma que imita um oito deitado. A árvore frutífera é nativa do sudeste asiático; dá frutos de casca grossa e rugosa.
Essa oferenda me foi dada em uma conversa na qual quem me presenteou me contou que a cozinha oriental é tida por muitos como uma das mais perfumadas. Além do tempero requintado de suas iguarias, a preparação dos pratos envolve os comensais numa atmosfera mágica tipo as “Mil e uma noites”. A combava ajuda no clima: perfuma as iguarias e lhes dá um sabor único.
A árvore da combava tem “mil e uma utilidades mágicas”. As suas folhas são utilizadas para tratar picadas de insetos e sua casca ralada é considerada um tempero muito especial, principalmente na culinária tailandesa, para perfumar frutos do mar.
Esse feliz encontro fez-me pensar acerca do quanto de tempero uma análise pode acrescentar a uma vida. Na vida, há cheiros e sabores que não se explicam. Só são sentidos quando tocam quem está sensível. É pena, mas há quem consiga passar batido, por exemplo, ao sentir o cheiro de mato molhado depois de uma chuva de verão, ou, ainda, de pão saindo do forno ou de bolo fresquinho.
Uma análise, então, pode tornar a vida de alguém mais saborosa e mais perfumada na medida em que é um convite para que um sujeito se toque com esses cheiros e perfumes que o cercam e sempre estiveram ao seu redor. Depois de uma análise, esses cheiros, temperos e sabores afetam o corpo, roçam a pele, marcam alegremente a vida e a história de uma pessoa.
Uma análise visa, pela via do desejo, a temperar a vida de um sujeito, equilibrando, na medida do possível, seus sabores e dissabores.